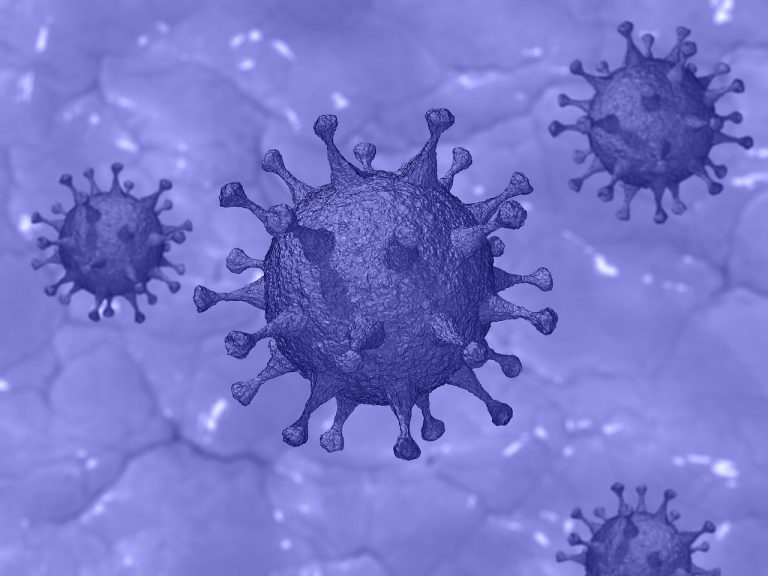Em 2020, as vacinas contra a covid-19 quebraram todos os recordes, passando do desenvolvimento à aprovação numa questão de meses. Perceba porque as vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna, que estão a dar início a uma nova era da medicina, foram desenvolvidas em tempo recorde e o que está por detrás de todo o processo – desde a manipulação da molécula à empresa portuguesa que fabricou moléculas de mRNA para a Moderna. Trata-se de algo revolucionário e, em teoria, não há limites para os tipos de doenças que poderíamos tratar.
Foram precisos apenas dez meses para que a Pfizer e a empresa de biotecnologia BioNTech e a Moderna – que cria vacinas e terapêuticas exclusivamente com base em moléculas de mRNA, daí o seu nome ‘ModeRNA’, que vem de modified RNA – conseguissem desenvolver uma vacina.
Várias pessoas levantam preocupações sobre a rapidez com que as vacinas foram desenvolvidas, mas é preciso salientar que esta celeridade contou com alguns factores muito importantes: um “estimulo” de milhares de milhões de dólares de investimento, um esforço global da comunidade científica, bem como um avanço na tecnologia das vacinas que permitiu reduzir a linha temporal e, possivelmente, mudar para sempre a forma como fabricamos vacinas no geral.
Vale a pena explicar, antes de mais, que as vacinas contra a covid-19 não são todas iguais. Enquanto as vacinas da Johnson & Johnson e da Astrazeneca têm por base de vetores virais, as vacinas da Pfizer/BioNTech e Moderna recorrem a uma molécula genética chamada RNA mensageiro (mRNA), que contém uma mensagem do código genético do SARS-CoV-2, que permite desencadear uma resposta imunitária contra o vírus.
Estas vacinas não foram únicas apenas pela rapidez com que foram desenvolvidas, mas também porque foi a primeira vez que se recorreu a esta tecnologia de mRNA, que contêm instruções para que as nossas células possam combater o vírus sem que este tenha de ser usado no processo de criação da vacinação, mesmo que enfraquecido.
Na base desta tecnologia está o princípio de que o nosso corpo pode produzir o que necessita para combater doenças ou infeções, mas para tal é necessário dar-lhe instruções. Quase todas as funções do corpo humano são realizadas por proteínas, por isso, as nossas células estão constantemente a fabricá-las – e, para tal, usam o mRNA.
Mas o que é o RNA mensageiro?
O mRNA é uma molécula que copia as instruções do código de ADN, que estão no interior do núcleo das células, para outras estruturas celulares, os ribossomas, onde são produzidas proteínas. Cada filamento de mRNA contém a informação sobre como fazer um tipo de proteína.
O nosso corpo reage a todas moléculas estranhas e no caso do SARS-CoV-2 reage à proteína spike, e é esse o objetivo destas vacinas: fazer o corpo reagir à proteína spike para que, em caso de infeção pelo novo coronavírus, o nosso corpo tenha anticorpos.
Mas como se cria essa reação, injetando o SARS-CoV-2? Não pode ser, porque isso geraria uma infeção. A solução pode passar por injetar um vírus inativo que não causa doença, mas que tem a proteína do novo coronavírus. E, nesse caso, falamos das vacinas tradicionais.
No entanto, em vez de injetar a proteína com um vírus atenuado, podemos ser nós a produzir a proteína no nosso corpo. É isso mesmo que ocorre nas vacinas de mRNA. As vacinas dão instruções ao nosso corpo para criar estas proteínas, de forma a que o sistema imunitário se possa familiarizar com elas e esteja preparado para as combater caso sejamos infetados com o vírus.
Nas vacinas da Pfizer-BioNTech e Moderna, a informação, o código de parte do vírus, é injetada em moléculas de mRNA, que agem como se fossem um manual de instruções. Este manual vai ensinar o nosso organismo a “fabricar” cópias de proteínas específicas do vírus o que, neste caso, se trata da proteína spike – que compõe os espigões da “coroa” (corona), que servem de chave para o coronavírus entrar nas células do corpo humano.
Tal como acontece com todo o mRNA do corpo, ele passa a proteína e assim, a proteína spike gerada, por não ser reconhecida pelo nosso organismo, vai ser atacada. A ideia é treinar o sistema imunitário para reconhecer o vírus e “disparar o alarme” em caso de exposição, gerando anticorpos – linfócitos B produzem anticorpos e linfócitos T asseguram imunidade celular – para eliminar a ameaça. As proteínas e o mRNA são depois destruídas e desaparecem do nosso corpo numa questão de dias.
Este mecanismo é a base de tudo na vida. O próprio vírus, em caso de infeção, entra na célula, abre a cápsula, liberta o seu RNA, enganando o corpo para produzir todas as partes que o compõem, de forma a se replicar. Na vacina é quase a mesma coisa, mas apenas ‘entra’ o RNA da spike, pelo que o vírus não se chega a formar.
Como é possível fazer vacinas tão rápido?
A Pfizer-BioNTech e Moderna criaram vacinas num tempo recorde, já sabemos, mas nesta altura deve estar a questionar-se como é possível fazer vacinas tão rápido? E, se este processo é tão eficaz, por que ninguém tinha feito uma vacina de mRNA até agora? A resposta está na evolução da tecnologia, da pesquisa científica e na necessidade gerada pela pandemia, já lá iremos!
A tecnologia de mRNA utilizada nas vacinas já estava a ser investigada há duas décadas para ajudar o sistema imunitário a combater tumores, mas a sua história começa muito antes. Desde que foi descoberto, em 1961, os cientistas pensaram em usar o mRNA como aplicação terapêutica, mas a ideia foi perdendo força devido a alguns obstáculos: era muito instável e quando era injetado no organismo o sistema imunitário desencadeava uma resposta inflamatória que destruía o material antes que este pudesse ser absorvido.
“A história é longa! Começa nos anos 80 do século passado, com a curiosidade de perceber como funciona o RNA dentro das células. O RNA é o mensageiro para fazer proteínas e as proteínas são os principais constituintes das células. Por outro lado, também são, quando falta uma determinada proteína ou quando há uma proteína defeituosa, a causa de doença”, explica ao SAPO24 Maria Carmo-Fonseca, presidente da RNA Society, especialista em genética e biologia molecular, e principal responsável pelo Laboratório de Regulação Genética do IMM.
Quando se percebeu esta dinâmica, “imediatamente se começou a pensar que ‘então, se nós conseguíssemos introduzir um RNA mensageiro diretamente numa célula conseguiríamos levar essa célula a fazer a proteína que nós quiséssemos?’”, refere, acrescentando que foi o que se fez com a proteína spike.
“Uma das cientistas que era obcecada por esta ideia de injetar RNAs para dentro de células era a cientista húngara, que agora é muito famosa, Katalin Karikó. Ela tentou, tentou, tentou”, conta a investigadora.
E é bem verdade: Durante décadas, a bioquímica húngara Katalin Karikó trabalhou para poder utilizar o mRNA como terapêutica — um trabalho que pouca atenção teve até agora, quando é o centro de duas das principais vacinas contra o coronavírus. Hoje, Karikó integra a direção da BioNtech, como vice-presidente, e vê a tecnologia para qual trabalhou salvar vidas. Mas não foi sempre assim.
Em meados dos anos 90, o entusiasmo inicial em torno do mRNA desvaneceu e, em 1995, Katalin Karikó recebeu um ultimato. Na altura encontrava-se na Universidade da Pensilvânia e tinha dedicado grande parte da década a tentar transformar o mRNA para criar vacinas e medicamentos. Mas, perante a falta de financiamento para a investigação e a sua insistência num tema sem desenvolvimento, a universidade disse-lhe que se continuasse a trabalhar com o mRNA teria duas opções: sair ou ser despromovida. A investigadora não desistiu e escolheu o segundo, tendo ficado a receber menos do que um técnico de laboratório.
Parecia ser o fim da linha para a ambição de Karikó, no entanto, aconteceu algo que mudou tanto o curso da sua carreira, como o da ciência: cruzou-se com o imunologista Drew Weissman. Apesar do baixo estatuto académico de Karikó à data, Weissman tinha o financiamento necessário e, assim, em 2000, os dois começaram uma parceria para desenvolver terapêuticas de mRNA.
Numa altura em que esta área de investigação estava praticamente esquecida, em 2005, publicaram um artigo no qual resolviam o problema da rejeição do mRNA e que o tornava viável como terapêutica. Perceberam que a solução passaria por inserir uma modificação, através da criação de uma molécula de mRNA artificial que podia ser administrada de forma segura. Se se pensar na molécula como um fio de contas, em que cada conta é uma base química, o que os investigadores fizeram foi trocar uma das contas do fio por outra – trocaram a uridina pela pseudouridina, que não desencadeava a rejeição.
“Foi com muito esforço e muita perseverança que Karikó descobriu que o RNA que estava a fazer no laboratório e que usava para injetar nas células não era exatamente igual ao RNA que era feito dentro das células. Havia uma modificação química que ela não estava a reproduzir quando sintetizava o RNA no laboratório, e isso foi uma das descobertas-chave que permitiu agora, introduzindo essa pequenina modificação química no processo de síntese, que o RNA fosse mais estável e que realmente conseguisse funcionar dentro das células”, detalha Carmo-Fonseca.
“Todo o RNA que agora está nas vacinas tem essa modificação química e esta foi é grande descoberta que Karikó fez e que permitiu começar um mundo de novos tratamentos com RNA. Outra grande descoberta foi a forma como empacotar o RNA quando ele é injetado dentro do corpo”, acrescenta.
A principal desvantagem do mRNA é que este se decompõe muito facilmente. E, por isso, tem de ser fornecido dentro de uma barreira protetora de gordura e mantido a temperaturas ultrafrias – o que não é propriamente ideal para uma vacina que precisa de chegar a todos os cantos do mundo.
“Cada vez que [Karikò] levava moléculas de RNA no laboratório para dentro de células, tinha um efeito muito fraquinho, parecia que o RNA desaparecia e quando o injetava em animais, então desaparecia completamente”, explica Carmo-Fonseca.
A presidente da RNA Society explica que “é a mesma coisa que os medicamentos que tomamos dentro de uma cápsula. A cápsula é um veículo apenas para proteger a molécula ativa e foi necessário inventar cápsulas para pôr o RNA lá dentro, de maneira que quando ele é injetado não seja destruído na corrente sanguínea”.
Depois de entrar, essa membrana degrada-se e as “fábricas de proteínas”, os ribossomas, leem o que está escrito no mRNA e começam então a produzir a tal proteína spike.
Assim, muitos dos obstáculos à manipulação do mRNA já estavam ultrapassados no momento em que os cientistas redirecionaram a pesquisa para o desenvolvimento das vacinas covid-19. “Em 2015, já se estavam a fazer os primeiros ensaios com esta forma de RNA modificado e encapsulado em partículas de gordura, que é o que está a usar agora também na vacina da Pfizer e da Moderna”, detalha a investigadora.
O trabalho de Karikó acabou por chamar a atenção de um casal de médicos alemães de origem turca, Ugur Sahin e Özlem Türeci, que fundaram a BioNTech em 2008, em Mainz, e de um biólogo canadiano e professor em Harvard, Derrick Rossi, que fundou a empresa Moderna, em 2010, cujo objetivo específico era utilizar mRNA modificado para criar vacinas e terapêuticas.
Agora, BioNTech e Moderna são nomes que se tornaram familiares e são também responsáveis pelo fornecimento de milhares de milhões de doses de vacinas em todo o mundo. Tudo graças a uma investigadora que se recusou a desistir. Em 2013, Karikó foi convidada a trabalhar na BioNTech, que testava a tecnologia de RNA em tratamentos contra o cancro.
“Quando disse na universidade que me ia embora, riram-se de mim e disseram: ‘A BioNtech nem sequer tem um site’”, contou a cientista numa entrevista à Wired.
“Acho que, de facto, é muito importante que as pessoas percebam que isto não é um trabalho de ontem. O desenvolvimento do mRNA como conceito e como produto data há mais tempo. O primeiro ensaio da Moderna com mRNA é de 2015, portanto, isto não foi uma coisa nova”, reitera Raquel Fortunato, a CEO da GenIbet, uma startup de Oeiras que trabalhou no fabrico de 15 lotes de RNA mensageiro para a Moderna.
“No período entre 2015 e 2019 fizemos uma série de lotes para a Moderna. Todas vacinas ou terapêuticas de mRNA para diversas indicações [terapêuticas] que eles foram utilizando em diversos ensaios clínicos que já decorreram ou ainda estão a correr”, recorda.
Apesar de não estarem diretamente relacionados com a covid-19, o estudo desta tecnologia permitiu chegar a uma das respostas à pandemia, o que resultou até num agradecimento de Stéphane Bancel, presidente executivo da farmacêutica norte-americana: “A Moderna está muito grata à GenIbet pela parceria para desenvolver a primeira vacina [com tecnologia] mRNA, no final de 2015.”
A GenIbet surgiu no seio do Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (IBET) e produz lotes de biofármacos, como moléculas de RNA e adenovírus, para serem usados em ensaio clínicos.
De acordo com Raquel Fortunato, a Moderna começou “como uma empresa muito pequena que subcontratava todos os serviços, que iam desde a parte da produção do RNA, que era onde a GenIbet estava envolvida, até à produção das matérias-primas para produzir o mRNA”. No entanto, desde o início que a Moderna queria “capacitar-se com a possibilidade de serem eles próprios a fazer a produção” e em 2018 acabaram por inaugurar uma fábrica nos Estados Unidos, que “ainda hoje está em operação, e ficaram autónomos”.
O impasse no investimento na tecnologia de mRNA
Há várias vantagens associadas a esta tecnologia: a segurança, por não se trabalhar com vírus inativados ou atenuados; a rapidez, uma vez que permite a produção em escala destas moléculas in vitro, sem necessidade de recorrer à cultura de células; e a possibilidade de ser rapidamente modificada, por forma a dar resposta ao aparecimento de novas variantes. Mas até ao aparecimento da covid-19, esta tecnologia parecia não ser suficiente para a aposta da grande indústria.
“Quando surge uma abordagem completamente diferente, a indústria tem a tendência de dizer ‘vamos esperar para ver’. É por isso que são pequenas empresas de biotecnologia, como foi a BioNtech ou a Moderna, a dar os primeiros passos e a apostar nas novas tecnologias”, explica Carmo-Fonseca, acrescentando que as empresas grandes ficaram à espera dos resultados e só quando estes começam a ser bons é que decidem que, “afinal, isto parece promissor”.
“Quando os investigadores da BioNtech estavam a tentar passar a mensagem que de valia a pena investir em vacinas de mRNA, referiam ‘que é mais rápido do que os métodos convencionais de fazer vacinas’. Mas naquela altura não havia uma pandemia e a resposta era: ‘Ok, mas tenho as vacinas que preciso, com os métodos convencionais, para as doenças que neste momento preocupam humanidade’”, conta Maria Carmo-Fonseca.
“Para mostrar a importância de ter uma vacina rápida, começaram a focar-se no cancro. Como cada cancro é personalizado, é necessário fazer um estudo exaustivo de todos os seus antigénios e depois escolher quais são os que vão ser capazes de treinar o sistema imune para o destruir — e não temos muito tempo. Se ficarmos meses ou mais do que um ano a fazer este estudo, o cancro avança e depois já não vamos a tempo de tratar a pessoa, já não serve de nada ter a vacina”, exemplifica.
E foi assim que a BioNtech começou a desenvolver a tecnologia das vacinas. Eles que tinham relativamente pouco investimento para doenças infeciosas, conseguiram atrair investimento para o cancro.
Ainda assim, só em 2020, com a pandemia da covid-19 a exigir o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde e a larga escala, é que as vacinas de mRNA comprovaram ser uma clara vantagem sobre o método mais tradicional e demorado.
“É muito curioso ouvir uma das palestras dos cientistas BioNtech onde eles diziam ‘se aparecer uma pandemia a nossa tecnologia de mRNA vai ser utilíssima para fazer uma vacina nova contra um agente infeccioso novo, num curto espaço de tempo’. Estas palavras foram premonitórias!”.
A rapidez com que as vacinas de mRNA podem ser desenvolvidas, uma vez que não são utilizados organismos vivos nem requerem o crescimento e transporte de grandes quantidades de agentes patogénicos vivos num laboratório, é uma vantagem, sugerindo que esta tecnologia poderia ser uma possível solução perante uma pandemia.
A rapidez dos ensaios clínicos
Já explicámos o factor científico por trás da rapidez do desenvolvimento das vacinas de mRNA, que foi motivado pela insistência de décadas na investigação, mas também se deu uma grande colaboração entre a comunidade científica.
“Houve um sentimento de que isto [pandemia e necessidade de vacina] era uma urgência, uma urgência mundial. Portanto, acho que houve aqui um envolvimento de toda a comunidade científica e das próprias empresas. Viram-se coisas que nunca se tinham visto: grandes empresas farmacêuticas a fazerem acordos para trabalhar em conjunto”, explica a CEO da GenIbet.
Falta agora explicar outro fator fundamental para impulsionar os ensaios clínicos: o investimento.
“[Os desenvolvimentos de terapêuticas] são processos muito longos. E tipicamente são processos longos porquê? Porque primeiro é preciso arranjar financiamento para fazer ensaios em animais. Depois, se os resultados em animais forem bons, vamos tentar arranjar financiamento para fazer primeira fase de ensaios clínicos em humanos, e assim sucessivamente”, esclarece Raquel Fortunato. “Dificilmente uma empresa tem capacidade económica para, ainda antes de ter começado os ensaios de fase um, já estar a preparar-se a nível de recrutamento dos doentes”.
“[Com as vacinas contra a covid-19] não houve atalhos em cada uma das fases. Acho que é muito importante que as pessoas percebam isso. O que aconteceu foi que em vez de as fases serem sequenciais, que é o que normalmente acontece, estiveram sobrepostas. Obviamente sem nunca pôr em causa a segurança. Não se avançou com ensaios de fase dois antes de se ter os resultados de fase um para mostrar que era seguro”, clarifica Raquel Fortunato.
A questão da rapidez é também reiterada por Carmo-Fonseca, que destaca a importância de “ter a noção de que este enorme investimento, que foi feito a nível mundial, foi realmente responsável pela rapidez dos ensaios clínicos”, salvaguardando, porém, que “não foi o responsável pela descoberta científica de como fazer a vacina”.
“Isso, não há investimento que consiga acelerar uma descoberta científica. A descoberta científica já tinha sido feita, o que não tinham sido ainda feitos eram tantos ensaios clínicos quanto o necessário para haver uma aprovação”, refere.
Para a investigadora, foi por isso que as investigações sobre RNA demoraram tanto tempo: “Geralmente, não se falava em RNA e a indústria farmacêutica convencional foi muito resistente” e “não havia um grande investimento na área, e com pequenos investimentos fazem-se poucas experiências, poucos ensaios e, portanto, demora muito tempo para acumular os resultados”.
“Por exemplo, para o cancro, a BioNtech publicou em 2017 um primeiro ensaio clínico com cerca de 30 pessoas com cancro, com melanoma, e com resultados muito bons. Só agora em 2021 é que eles conseguiram a avançar com um ensaio com mais doentes. E porquê? Porque é preciso atrair investimento e, apesar dos primeiros resultados terem sido bons, para que um novo medicamento seja aprovado, é preciso ter números maiores”, exemplifica.
Assim, a aprovação de emergência no caso da covid-19 deu-se porque o investimento realizado permitiu atingir “esse número crítico necessário em muito menos tempo do que acontece normalmente”.
“Grande parte do tempo que os cientistas precisam para levar uma nova descoberta à aplicação clínica é usado para convencer investidores, para depois se fazer o ensaio clínico. Este grande investimento de emergência foi absolutamente crítico, sem ele não se tinham feito os ensaios em tempo recorde”, relata.
A presidente da RNA Society relembra ainda que “quando surgiu a covid-19 tudo acelerou”. E quando a Pfizer decidiu “avançar e dar apoio à BioNtech houve um compromisso de risco” de investimento. Maria Carmo-Fonseca justifica que o risco era muito grande, porque “não sabiam se ia funcionar”, e por isso “em condições normais, se não tivéssemos em pandemia, não tinham avançado”.
“Várias farmacêuticas investiram em vacinas que não deram nada, só que dessas nem se fala, só falamos das que deram resultado. Só que isto é como na história, não é? Os maus resultados não fazem história, rapidamente são esquecidos e tem de se tem que seguir em frente”, recorda.
Questionada sobre se este investimento no RNA devido à covid-19 pode levar a novas terapêuticas e uma evolução na investigação desta molécula, Maria Carmo-Fonseca refere que “não temos de esperar, já estamos a viver essa realidade”.
“Todos os programas de investigação da Comissão Europeia já incluem dentro das prioridades novos medicamentos com base de RNA. A prova de princípio foi dada e, neste momento, há já uma grande abertura da parte dos investidores, quer públicos quer privados, para explorar o RNA. Agora já sabemos que estamos no ponto certo para encontrar aplicações e é uma questão de diversificar o número de doenças que poderão beneficiar da terapêutica de RNA. Portanto, já estamos a viver a era do RNA, já não vamos estar à espera, já estamos nela”, remata a investigadora.